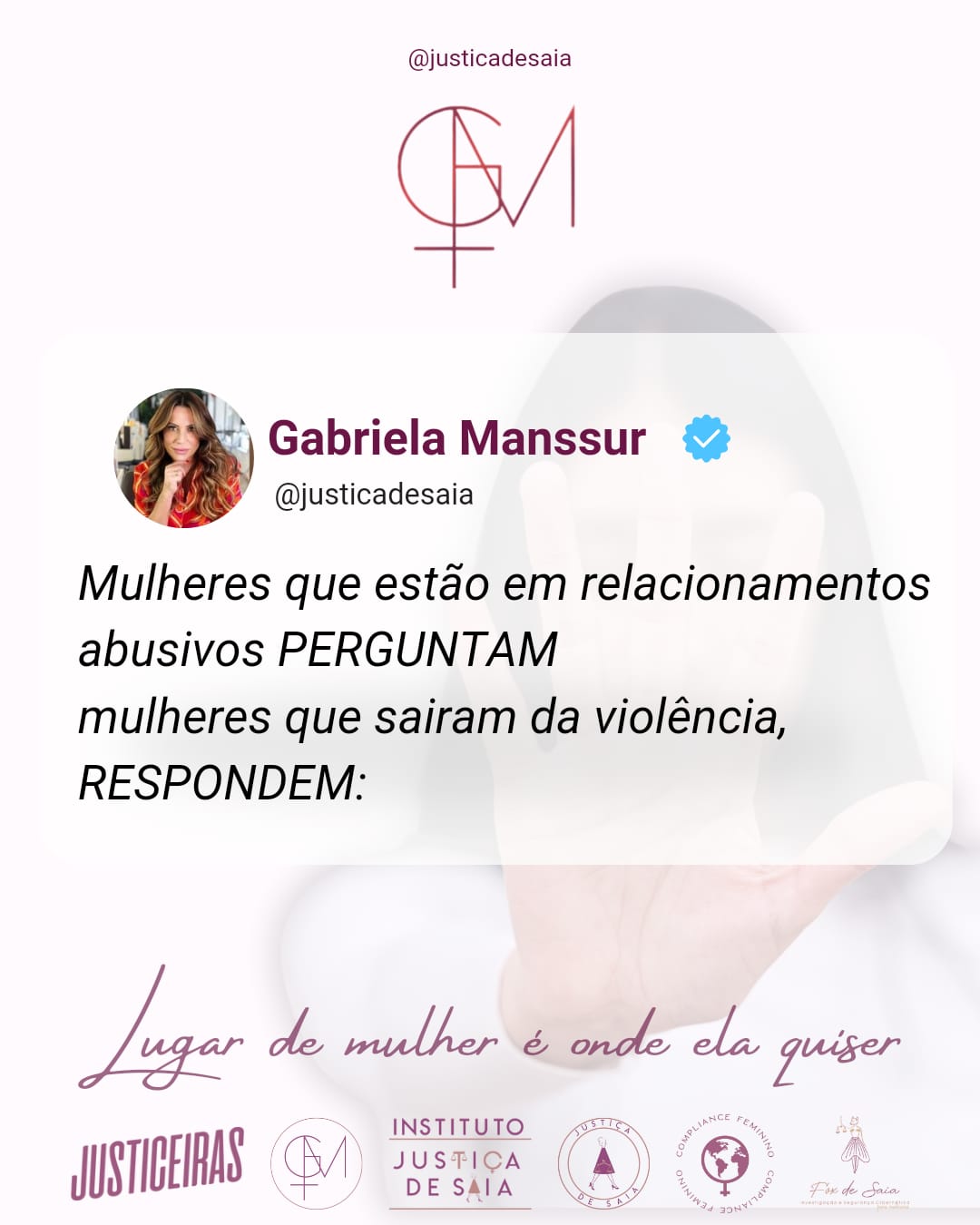Saiu no site DIPLOMATIQUE
Apesar das diretrizes do ECA, que apontam a destituição como exceção e ressaltam que a pobreza ou o uso de drogas não são motivos suficientes para a perda do poder familiar, a prática frequentemente contradiz essa normativa
Em dezembro de 2023, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) sediou a reunião do Fórum de Maternidades, Uso de Drogas e Convivência Familiar, um evento marcado pelo lançamento da cartilha “A criança foi acolhida, o que devo fazer?”. Nesse lançamento estavam presentes Eufrásia Maria Souza das Virgens, antiga defensora da Coordenadoria da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cdedica), profissionais da saúde e da assistência social, além de membros do colegiado do Fórum. O encontro destacou a necessidade de uma articulação entre diversas políticas públicas para prevenir que famílias, sobretudo aquelas chefiadas por mulheres e afetadas por questões como pobreza, local de moradia, raça, etnia e religião, percam a guarda de seus filhos contra sua vontade.

Esse cenário expõe como noções hegemônicas de família, maternidade e infância são manuseadas pelo sistema judiciário, marginalizam e desautorizam experiências que divergem do modelo tradicional, reforçando a urgência do tema e a necessidade de luta por justiça. A partir desse contexto colocamos duas questões que atravessam todo o texto: por que mulheres continuam perdendo seus filhos para o Estado? Quais são os principais marcadores que atravessam esses casos?
Nos estudos realizados por pesquisadoras da Rede Transnacional de Pesquisa sobre Maternidades Destituídas, Violadas e Violentadas (REMA), as maternidades são entendidas no plural, admitindo que existem inúmeras formas de exercer o papel de cuidado reprodutivo. Os casos de violação acompanhados pelas pesquisadoras envolvem principalmente gestantes e/ou puérperas (e suas famílias) negras com trajetória de vida nas ruas, usuárias de álcool e outras drogas, em situação de pobreza extrema, moradoras de favelas ou áreas de risco, com sofrimento mental, membros de comunidades tradicionais ou indígenas e de religiões de matriz afro-brasileira (umbanda ou candomblé).
Os modos de vida dessas populações e/ou suas condições de vulnerabilidade social são considerados inadequados para os cuidados das crianças e, por isso, são justificadas a suspensão ou a extinção do poder familiar. Posteriormente, essas crianças são colocadas para adoção, sem nunca mais serem vistas. Essa prática, que tem sido menos excepcional e mais rotineira, viola a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de outros princípios normativos voltados à infância.
Podemos citar como peça normativa a cartilha mencionada acima que detalha o passo a passo para as famílias acessarem a DPRJ após terem bebês, crianças ou adolescentes acolhidos, geralmente em espaços conhecidos como “abrigos”. Estes são destinados a crianças e adolescentes que enfrentam suspeitas ou comprovações de violações de direitos como negligência, maus tratos, violência física, psicológica, sexual, verbal e abandono. O acolhimento seria uma primeira etapa de intervenção nesses casos. Os casos mais extremos seriam de destituição do poder familiar, sempre justificado como só ocorrendo após a falta de alternativas de ações protetivas e intervenções com vistas à manutenção da criança na família de origem.
A Vara da Infância e Juventude, junto ao Conselho Tutelar, avalia e decide sobre essas medidas de proteção, que são vistas como excepcionais e devem priorizar a manutenção da criança em seu meio de origem, isto é, em suas famílias. Apesar das diretrizes do ECA, que apontam a destituição como exceção e ressaltam que a pobreza ou o uso de drogas não são motivos suficientes para a perda do poder familiar, a prática frequentemente contradiz essa normativa. Profissionais da rede de saúde, assistência social e Judiciário relatam uma persistente criminalização da pobreza e do uso de drogas, o que reflete o racismo institucional e impacta principalmente famílias vulneráveis.
O objetivo deste texto é chamar atenção para o caráter histórico e estrutural dos casos de destituição sobre certas maternidades. Do mesmo modo, não podemos negar contextos de “sequestro”. Utilizamos esse termo com o propósito de caracterizar casos em que crianças são retiradas de seus núcleos familiares e levadas para instituições de acolhimento, sem muitas vezes de fato existir uma violação. Casos esses que mobilizam os debates acadêmicos, ativistas e profissionais.
Reconhecida nacionalmente pela mobilização em torno do que foi convencionado como “separação” ou “abrigamento compulsório de mães e bebês”, a Coletiva em Apoio às Mães Órfãs surgiu a partir da mobilização chamada “De quem é esse bebê” ocorrida na cidade de Belo Horizonte (MG). A coletiva é composta quase que exclusivamente por mulheres, que são profissionais da saúde e da assistência social, defensoras públicas, advogadas, pesquisadoras e ativistas. Há pelo menos sete anos, o grupo atua voluntariamente e tem realizado eventos públicos, denúncias, campanhas, pesquisas e audiências públicas – na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e na Câmara de Deputados.
Caso semelhante de ativismo e luta por essas maternidades é o Fórum de Maternidades, Uso de Drogas e Convivência Familiar, mencionado no início deste artigo. O Fórum é composto por uma coordenação colegiada com seis membros, sendo cinco mulheres e um homem. O espaço tem como objetivo debater, construir fluxos, articular a rede de atuação, construir normativas jurídicas e dar visibilidade às mães que estão em situação de uso de drogas, em trajetória de rua ou em alguma situação de vulnerabilidade e que tiveram suas maternidades judicializadas.
O espaço do Fórum é composto por diversos profissionais da saúde e da assistência, em articulação com o sistema de Justiça, priorizando o atendimento intersetorial entre as redes de atendimento a essas mulheres, juntamente com seus filhos. Os encontros abordam os desafios e estratégias para possibilitar que aquelas mulheres vivenciem as suas maternidades e cuidem de seus filhos, reconhecendo-os como sujeitos de direitos.
Nesse sentido, esse lugar do Estado que delimita quem pode ter e ser cuidado configura um campo atravessado por moralidades em que determinados corpos são negados de cuidar e de serem cuidados. Da mesma maneira que o gênero é um marcador histórico e social fundamental para refletirmos sobre o tema da destituição, tal tema não pode ser discutido sem ser racializado. A partir dessa relação queremos chamar atenção para como essa discussão não está apartada dos debates levantados, sobretudo por pensadoras e feministas negras, isto é, como os direitos sexuais e reprodutivos foram, ao longo dos anos, se tornando um dispositivo de gestão e administração estatal.
MULHERES DESPOSSUÍDAS DE DIREITOS
Para muitas dessas pesquisadoras, como Angela Davis, Lélia Gonzales e Sueli Carneiro, há continuidades e descontinuidades no interesse pela maternidade (ou o não exercício dela) e pela infância em seus diferentes aspectos. Como o ataque ao direito reprodutivo se refere a direitos não acessados, as mulheres não brancas podem ser testemunhas por meio de controle populacional, a destituição do poder familiar e o não reconhecimento de sua maternidade. Essas mulheres são despossuídas como sujeitos sociais que não têm direito a proteções legais nem a reparações garantidas pela legislação dos direitos civis.
Essas situações, não raro, vêm acompanhadas de violência obstétrica e de barreiras ao acesso de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tais como a negação ao aborto nos casos previstos pela legislação brasileira, proibição do aleitamento materno e até mesmo esterilizações involuntárias. É igualmente constante a discriminação no atendimento, visto que tais mães são tanto questionadas diante das responsabilidades de terem engravidado, quanto julgadas e contestadas sobre terem condições de criarem seus filhos. Uma parte considerável das mulheres que têm seus filhos/as retirados ou separados nos hospitais, logo após o parto, não possui vínculos familiares, amparo e/ou proteção social de sua família extensa ou do possível companheiro.
Apesar de orientado em alguns princípios normativos da infância, o problema social da destituição não é recente. Podemos ainda traçar um paralelo com alguns pontos jurídicos do período de passagem do sistema escravocrata para o processo de “emancipação” – abolicionista com os dias atuais. A historiadora Marília Ariza em sua pesquisa sobre o processo de emancipação gradual e abolição do período escravocrata analisa as relações entre gênero, maternidade e infância. A interdição das maternidades de mulheres escravizadas no período pós-abolição foi um desafio encarado por essas mulheres que acabaram utilizando estratégias variadas como acordos com patrões, arranjos com antigos senhores e fugas para enfrentar o impedimento da formação de suas famílias autônomas. Houve inúmeros casos de mulheres libertas que, de forma deliberada, se engajaram na crescente esfera judicial, que se tornou um palco crucial para as controvérsias envolvendo a emancipação – um processo que atingiu seu auge nas décadas de 1870 e 1880 – para lutar pelos direitos sobre seus filhos.
DIREITO À MATERNIDADE
A importância de mapear e de analisar a mobilização política associada ao “direito à maternidade” é para pensarmos como essa relação entre gênero, raça, classe, território e Estado está sendo constituída como projeto de nação. O Estado aparece como a figura que coloca a maternidade negra em suspeição, como um mau gênero; não sendo a maternidade desejável no imaginário racial, assume o papel de impedir essa maternidade de existir. Ao mesmo tempo que podemos constatar os vestígios, para usar o termo da autora norte-americana Cristina Sharpe, como uma ideia de permanência na zona do não ser em que estão as pessoas negras. Seriam relegadas como uma “herança” do sistema escravocrata que desrealiza não só a existência, mas outras formas de estar no mundo, com o “status de não mãe” para mulheres negras, um “status narrativamente condenado” sobre um passado que não passou. Concomitantemente, a noção de vestígio também aponta para como as pessoas negras habitam o terror e como vivem apesar dele.
Outras formas de habitar este mundo são continuamente redesenhadas sendo que as situações excepcionais também produziram resistências e recusas negras. Nas nossas pesquisas e escutas a experiência comum tem sido a recusa de não ser mãe. Se por um lado, parece uma busca às origens biológicas da maternidade, por outro, reconhecemos o atravessamento histórico, cultural e contextual do racismo e o impedimento de mulheres exercerem os seus direitos e desejos reprodutivos. Nesse sentido, assumimos que a destituição é um problema com muitos estigmas e vulnerabilidades associadas, mas que possui o seu vestígio no sistema escravocrata e até os dias atuais é preciso construir rotas de fuga para garantir mães e filhos juntos.
Ariana Oliveira é pesquisadora da REMA/CNPq, doutoranda em Ciências Sociais (PPGCS/Unicamp) e mestra em Antropologia Social (PPGAS/Unicamp).
Tássia Áquila é pesquisadora da REMA/CNPq, doutoranda em Saúde Coletiva (PPGSC/IMS/UERJ) e mestra em Sociologia e Antropologia (PPGSA/UFRJ).
Revisão e edição: Mariana Pitasse e equipe Le Monde Diplomatique Brasil.